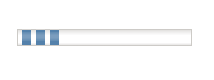Esta paixão pela língua portuguesa, que aqui confesso, cega não será, superlativa muito
menos. Entendo-a rica, porque vem das boas famílias dos antigos e o que recebeu multiplicou.
Mas nunca afirmarei que é a mais rica ou a mais bela do mundo. Cada povo verá no seu
idioma mais virtudes que em idiomas alheios. Que a disputa, se a houver, seja festiva, pois
que os idiomas não ocupam espaço e não geram rivais mas poliglotas. Anterior à festa, está,
porém, aquilo que dizem História. E a História é bruta e territorial.
Para abordar o assunto do domínio da língua portuguesa sobre os povos são necessários
delicadeza e conhecimento, inteligência e desassombro em dose máxima. Dou-me por incapaz
e renuncio a uma tentativa de discurso. Sei, sim, que houve opressão e apagamento. Mas
talvez não nos caiba desculparmo-nos pelos conceitos e ações de antepassados, visto que
não nos assumimos legatários e o continuum moral já foi cortado. […]
As línguas são os únicos seres vivos que não têm origem natural. O erro humano pode
prolongar-se, mesmo inocentemente, por descuido. O português carregará ainda alguma febre
imperial no corpo e é natural que desconfiem dele. Mas acontece que a repressão é mecânica
e a língua é biológica. Se chega às terras de outros povos na bagagem do colonizador, em
breve sai e se desnuda e se alimenta, e adormece e procria. As armaduras ficam no chão,
enferrujadas, podres. A formação orgânica progride.
Que desígnio será o seu, agora, se não o de trocar e conviver, isto é, integrar a plenitude,
reconhecendo e respeitando a alteridade? Com os nossos instrumentos humanistas, seremos
nós os capazes de «medir», como escreve o Professor Eduardo Lourenço, «esse impalpável
mas não menos denso sentimento de distância cultural que separa, no interior da mesma
língua, esses novos imaginários»? […]
O nosso mundo de sobreviventes está seguro por laços muitos finos. Eu vejo os fios
que unem os textos nas diversas versões do português, leves fios resistentes e aplicados
a construírem uma teia que não rasgue. Quando o angolano Ondjaki dedica um poema ao
brasileiro Manoel de Barros, quando Mia Couto reconhece a influência que teve Guimarães
Rosa na sua escrita transfiguradora e transfigurada pelas africanas narrativas do seu povo;
quando a portuguesa Maria Gabriela Llansol considera Lispector «uma irmã inteiramente
dispersa no nevoeiro», vemos a língua portuguesa a ocupar - não como o invasor ocupa
a terra, mas como o sangue ocupa o coração - um espaço livre, um sítio para viver, uma
comunidade de diferenças elástica, simbiótica e altiva. Esta é a ditosa língua, minha amada.
Hélia Correia, «Ditosa língua», Público, 8 de julho 2015
1. No contexto em que ocorre, a forma verbal «verá» (linha 3) exprime uma
(A) suposição.
(B) certeza.
(C) ordem.
(D) obrigação
2. Nas expressões «Se chega» (linha 15) e «se desnuda» (linha 16), as palavras sublinhadas são
(A) conjunção e pronome, respetivamente.
(B) pronome e conjunção, respetivamente.
(C) conjunções, em ambos os casos.
(D) pronomes, em ambos os casos.
3. Relativamente à expressão «a língua portuguesa» (linha 29), o recurso ao pronome demonstrativo presente na linha 31 constitui uma
(A) substituição por hiperonímia.
(B) substituição por sinonímia.
(C) anáfora.
(D) catáfora.
4. Indique o valor da oração relativa «que aqui confesso» (linha 1).
5. Indique a função sintática desempenhada pela oração «que houve opressão e apagamento» (linha 9
6. Identifique o antecedente do possessivo «sua» (linha 27).
Época Especial 2016
Só faço a mala à última hora. Nos dias anteriores a uma grande viagem, tento resolver uma
enorme quantidade de assuntos que, com frequência, estavam por tratar há meses. Tento
arrumar tudo, até a consciência, e partir tranquilo. Normalmente, consigo fazê-lo. Soluciono
burocracias acumuladas, organizo gavetas, escrevo e-mails aborrecidos que andava a adiar
e que, durante esse tempo, pareciam crescer em tamanho, em número e em aborrecimento.
Nessa vertigem, não tenho consciência daquilo que me espera à distância de horas.
A mente, ocupada com a obsessão de eliminar problemas antigos, não se liberta a conceber
a viagem que começará em breve. Mesmo a fazer a mala, ainda não estou consciente da
enorme transformação que está prestes a acontecer. Mantenho uma noção simultaneamente
teórica e prática daquilo que planeio: número de dias, calor/frio, necessidades específicas.
Assim, escolho roupa e objetos, entalo meias nos espaços livres.
As partidas. Saio do táxi e tudo segue uma rotina: ver no placard eletrónico qual o balcão
do check-in certo, caminhar a um ritmo certo, pedir para me arranjarem um lugar que não
seja no meio, e guardo sempre o bilhete e os documentos no mesmo sítio, e sigo sempre a
mesma ordem na máquina dos metais. Tenho sempre um livro para ler. Com ele, espero junto
ao portão de embarque. Quando a voz do altifalante avisa que vai começar o embarque, não
tenho pressa.
Sei que chegaremos todos ao mesmo tempo. Entro no avião com o pé direito, sento-me e,
só nesse momento, começo a fantasiar sobre o destino para o qual me dirijo. Faço-o durante
toda a viagem.
Miami, Pequim, Moscovo. Antes de levantar voo, mas já com o cinto apertado, tinha ideias
sobre cada uma dessas cidades. Nesse tempo agora irrepetível, acreditava nessas ideias
com firmeza, eram uma realidade que tinha como base leituras, filmes, conversas e uma
enorme quantidade de suspeitas que, em última análise, refletiam a minha visão do mundo. Só
concebia aquilo que era capaz de conceber. A minha experiência passada era muito importante
para traçar essas fronteiras, mas aquilo que eu imaginava tinha noção da necessidade de
transcender essa experiência. Não sou capaz de garantir que fosse capaz de fazê-lo. Com
base nesse conhecimento, a escolha destes três destinos teve como eixo a vontade de
testemunhar três ângulos essenciais da contemporaneidade política e civilizacional; três polos
de influência mundial que contribuíssem com pistas para o retrato daquilo que é o mundo hoje
e, ao mesmo tempo, permitissem intuir um pouco do mundo que aí vem. Tentando erguer o
tripé de um álbum de impressões, memórias, imagens, detalhes de instantes.
No que diz respeito ao olhar, impôs-se aquele que está lá e que privilegia a experiência
simples dos sentidos. No fundo, para quem foi, o mais fundamental desse tempo, aquilo que
efetivamente lhe acrescentou mundo, foi ter ido, ter estado lá realmente, ter olhado em volta.
Há muito que se pode aprender em enciclopédias, documentários ou na internet, mas também
há o resto: aquilo que se pode sentir.
José Luís Peixoto, Volta ao Mundo, n.º 209, março de 2012
1. A anteposição do pronome «lhe» (linha 35) justifica-se pela
(A) presença de uma expressão adverbial enfática.
(B) presença de um advérbio de negação.
(C) sua integração numa frase em discurso indireto livre.
(D) sua integração numa oração subordinada relativa.
2. «Aí» (linha 31) e «lá» (linha 33) são
(A) um deítico espacial e um deítico temporal, respetivamente.
(B) um deítico temporal e um deítico espacial, respetivamente.
(C) deíticos temporais em ambos os casos.
(D) deíticos espaciais em ambos os casos.
3. A oração «que vai começar o embarque» (linha 16) é uma oração subordinada
(A) substantiva relativa.
(B) substantiva completiva.
(C) adjetiva relativa.
(D) adverbial consecutiva.
4. Identifique o valor da oração subordinada adjetiva relativa presente em «A mente, ocupada com a obsessão de eliminar problemas antigos, não se liberta a conceber a viagem que começará em breve.» (linhas 7 e 8). restritivo
5. Identifique a função sintática desempenhada pela oração subordinada presente na frase «Sei que
chegaremos todos ao mesmo tempo.» (linha 18). complemento direto
6. Identifique o antecedente do pronome «o» presente na frase «Faço-o durante toda a viagem.»
(linhas 19 e 20). o destino para o qual me dirijo
Época Especial 2015
«Alberto Caeiro é o meu mestre», afirmava Fernando Nogueira Pessoa. E apesar de os
leitores do século XXI preferirem claramente o trágico engenheiro Álvaro de Campos ou o
solitário urbano Bernardo Soares, a verdade é que é de Caeiro que irradia toda a heteronímia
pessoana, pois ele é tudo o que Fernando Pessoa não pode ser: uno porque infinitamente
múltiplo, o argonauta das sensações, o sol do universo pessoano. Faz hoje cem anos que
Pessoa criou Alberto Caeiro. Tinha 26 anos.
«Ano e meio, ou dois anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-Carneiro
– de inventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lho, já me não lembro
como, em qualquer espécie de realidade».
Foi nesta carta a Adolfo Casais Monteiro que Pessoa descreveu o «nascimento» de Caeiro.
Apesar de os estudos pessoanos terem demonstrado que a carta não diz toda a verdade sobre
a criação do heterónimo, nem dos poemas, a verdade é que aquilo que nela haverá de ficção
serve para que Pessoa continue o seu jogo infinito com as racionalmente definidas fronteiras
do real e do irreal.
«Alberto Caeiro é o homem reconciliado com a natureza, no qual o estar e o pensar
coincidem. Ele resolveu todos os dramas entre a vida e a consciência», diz o filósofo José Gil,
que rejeita a ideia defendida por muitos estudiosos da «alma una» de Caeiro.
Inês Pedrosa refere que Caeiro seria a «figura da musa» para o poeta, que aliás o descreve
em termos helénicos, louro como um deus grego. Segundo a cronologia feita por Pessoa,
Alberto Caeiro nasceu em 16 de abril de 1889, em Lisboa. Órfão de pai e mãe, não exerceu
qualquer profissão e estudou apenas até à 4.ª classe. Viveu grande parte da sua vida pobre
e frágil no Ribatejo, na quinta da sua tia-avó idosa, e aí escreveu O Guardador de Rebanhos
e depois O Pastor Amoroso. Voltou no final da sua curta vida para Lisboa, onde escreveu
Os Poemas Inconjuntos, antes de morrer de tuberculose, em 1915.
Caeiro não é um filósofo, é um sábio para quem viver e pensar não são atos separados. Por
isso, não faz sentido considerá-lo menos real do que Pessoa. E cem anos depois, apesar de
não ser o poeta mais lido, Alberto Caeiro tem uma materialidade de que só quem não lê poesia
se atreve a duvidar. O poeta não precisa de biografia e não precisa de um corpo com órgãos
para se alojar em nós, para nos pôr a ver o mundo a partir dos seus olhos, «do seu presente
intemporal igual ao das crianças e dos animais», como escreveu Octávio Paz.
Joana Emídio Marques, Diário de Notícias, 8 de março de 2014, p. 47 (adaptado)
1.1 O recurso à expressão «tudo o que Fernando Pessoa não pode ser» (linha 4) configura uma
(A) elipse.
(B) anáfora.
(C) reiteração.
(D) catáfora.
1.2. A utilização de «pois» (linha 4) e de «Por isso» (linhas 25-26) contribui para a coesão
(A) frásica.
(B) interfrásica.
(C) temporal.
(D) lexical.
1.3. No texto, a palavra «nascimento» (linha 10) encontra-se entre aspas porque se pretende destacar
(A) uma citação.
(B) uma expressão irónica.
(C) um sentido figurado.
(D) um título.
1.4. No excerto «Inês Pedrosa refere que Caeiro seria a “figura da musa” para o poeta, que aliás o
descreve em termos helénicos, louro como um deus grego.» (linhas 18-19), as palavras sublinhadas
são
(A) um pronome e uma conjunção, respetivamente.
(B) uma conjunção e um pronome, respetivamente.
(C) pronomes em ambos os casos.
(D) conjunções em ambos os casos.
2.1. Classifique a oração «que a carta não diz toda a verdade sobre a criação do heterónimo, nem dos
poemas» (linhas 11-12). completiva
2.2. Identifique a função sintática desempenhada pela expressão «viver e pensar» (linha 25). sujeito
Época Especial 2014
Chamar Casa de Papel a uma crónica em torno das coisas dos livros é já denunciar um
saudosismo romântico. Fica um tom melancólico no ar, uma poeticidade a mudar para antiga,
talvez um certo lamento. Não sou nada contra o livro digital e a maravilha que as tecnologias
oferecem. Mas sou do tempo do papel e sonhei com os livros de papel. Quando pensei ser
escritor, um livro assim abriu-se acima da minha cabeça imaginária como um telhado sob o
qual passei a habitar.
Guardarei sempre essa ideia, ainda que possa vir a ler em ecrãs sofisticados e frios. O livro
de papel, como o coração, é um símbolo. Habituei-me a conferir-lhe determinadas mágicas
que, por mais sofisticação que me assalte, não serão substituídas. O livro, esse de folhas,
pulsa. O livro pulsa.
As casas de papel são modos de pensar na tangibilidade do texto, na manualidade de que
ele dependeu para ser lido. São modos de pensar nos autores. Cada autor como um lugar e um
abrigo. Um lugar. Ler um livro é estar num autor. Preciso de pensar nos objetos para acreditar
nos lugares. Oh, nossa deslumbrante desgraça mudadora, não consigo sentir-me bonito dentro
de um Kindle, de um iPad ou de um Kobo. Penso em mim melhor numa coisa entre capas. A
ilustração sem pilhas. As letras sem pilhas. Eternas e sem mudanças. De confiança.
Quantas vezes, estupefacto, abri um livro na mesma página para encontrar a mesma frase
da mesma maneira apresentada? E que prazer saber que a expectativa de que aquele universo
se preserve não sairia gorada, porque os livros de papel são estáveis, não pensam em ser outra
coisa senão por dentro das próprias palavras. Precisei muitas vezes de reencontrar páginas
específicas, com o seu grafismo cristalizado, o seu grafismo diamante, a guardarem‑me o que
não podia perder.
Amar um livro é pedir-lhe que seja sempre nosso, assim, como um amor que se conserva
para repetir ou reaprender. Como poderemos jurar fidelidade a um texto que se desliga? É
como não ter sentimentos, descansar na morte, não permanecer vivo enquanto espera por
nós. É infiel. Não o podemos sequer perfumar e eu tenho livros que me foram oferecidos com
aroma de buganvílias e canela. Gosto muito. Os leitores, sabemos bem, são territoriais. Como
os cães. Sublinhamos e não suportamos os sublinhados dos outros. Ainda que toscos, mal
alinhados, são a marca da nossa passagem por ali.
Valter Hugo Mãe, «Revista 2», Público,18 de novembro de 2012 (adaptado)
nota
iPad, Kindle, Kobo (linha 15) – dispositivos que permitem a leitura em formato digital.
1.1 O vocábulo «folhas» (linha 9), relativamente ao vocábulo «livro» (linha 7), é um
(A) hipónimo.
(B) merónimo.
(C) holónimo.
(D) hiperónimo.
1.2. Na expressão «Oh, nossa deslumbrante desgraça mudadora» (linha 14), o autor recorre à
(A) hipálage.
(B) metáfora.
(C) metonímia.
(D) ironia.
2.1. Classifique a oração «para acreditar nos lugares» (linhas 13 e 14). final
2.2. Indique o antecedente do pronome que ocorre em «Não o podemos sequer perfumar» (linha 26).
texto que se desliga
2.3. Identifique a função sintática do pronome pessoal sublinhado em «eu tenho livros que me foram
oferecidos» (linha 26). complemento indireto
Época Especial 2013